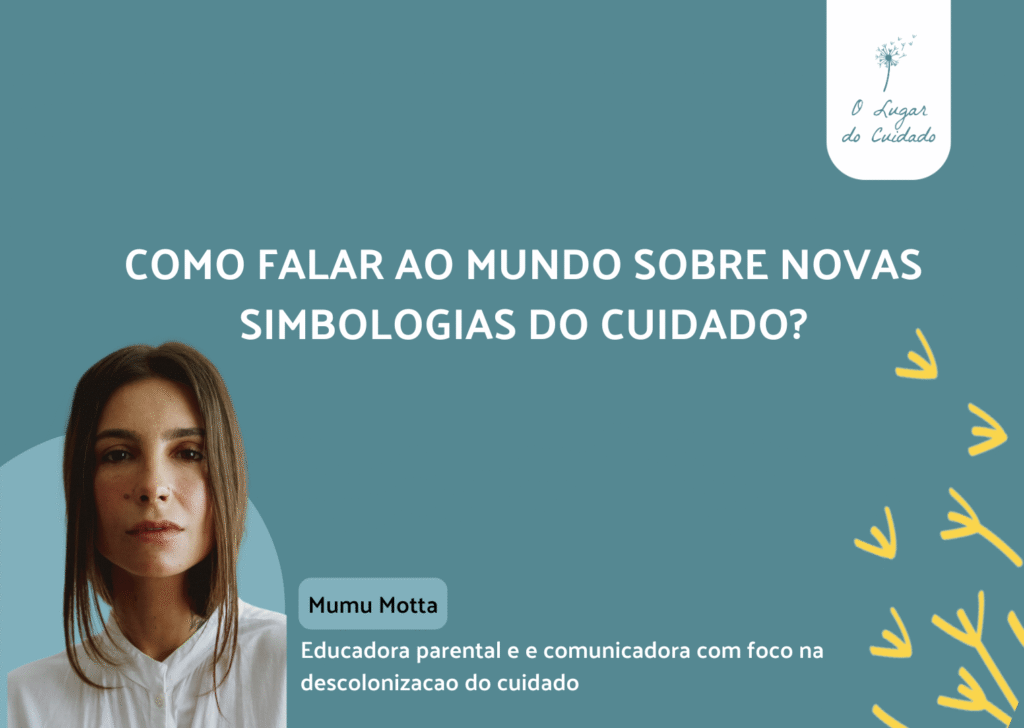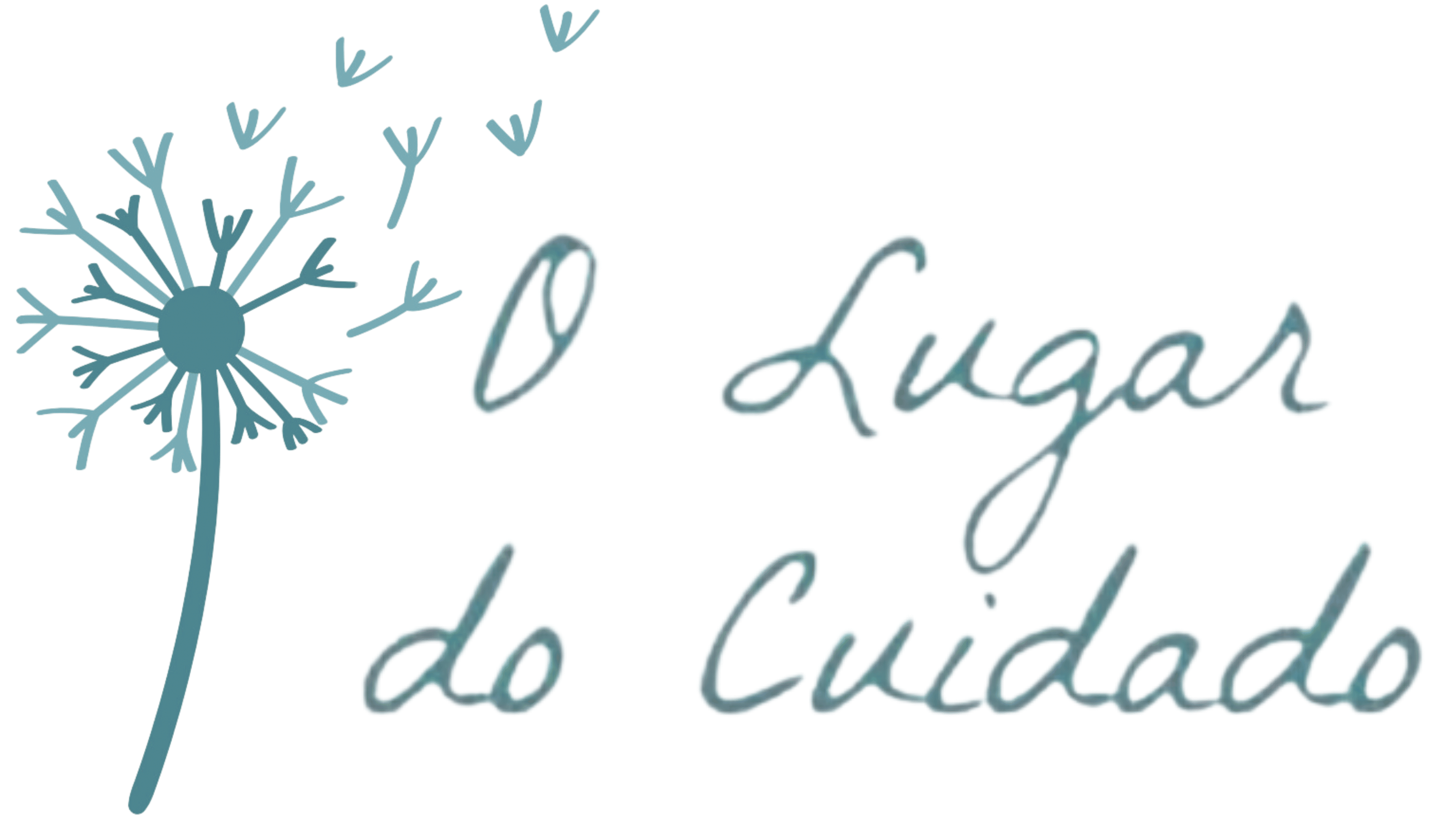“A maternidade é um foco de interesse e disputas, um terreno estratégico e fortemente controlado, um assunto de estado, inserida diversas vezes, em programas de colonização, manipulada de acordo com os princípios racistas e eugenistas, servindo ao controle de classes e população” (Mara Caffé)
Mãe só tem uma. Mãe é mãe. Mãe só muda de endereço. Quem pariu Matheus que o embale. Nasce um filho, nasce uma mãe. E o “crème de la crème” dos ditados populares sobre as maternidades: “Ser mãe é padecer no paraíso”. Padecer significa sofrer mal físico ou moral, ter resistência a; aguentar, suportar.
Começo minha escrita enfatizando que a forma como falamos o mundo não é acaso, é processo histórico e como disse Grada Kilomba em “Memórias da plantação: “a língua, por mais poética que possa ser, tem também uma dimensão política de criar, fixar e perpetuar relações de poder e de violência, pois cada palavra que usamos define o lugar de uma identidade”.
Questiono. Qual o lugar da mãe na sociedade brasileira? O que está por traz desses discursos tão enraizados nas entranhas das nossas subjetividades? A quem interessa que a mulher que materna permaneça em um lugar de padecimento social, físico e moral? A quem interessa que o desejo da mulher esteja atrelado única e exclusivamente ao cuidado com aqueles que a cercam?
Respondo estas questões trazendo nestes escritos o conceito do maternalismo, popularizado pela psicanalista Vera Iaconelli em seu livro “Manifesto Antimaternalista”, lançado em setembro de 2023. O nomeio também como “a monocultura do ideal materno”, monocultura esta que foi meticulosamente costurada com linhas misóginas, racistas e eugenistas manufaturadas por um processo histórico que contém episódios como a caça às bruxas na Europa ocidental e o violento processo de colonização do Brasil que, em busca de mão de obra, expansão territorial, acúmulo de capital e poder, trouxe embarcado em suas caravelas a doutrinação do pensamento cristão, a escravização dos corpos negros, o genocídio dos povos originários, o epistemicídio das suas cosmologias, o ecocídio de nossas florestas e o encarceramento do corpo feminino enquanto meio de reprodução da força de trabalho.
O maternalismo é uma armadilha ideológica que se sustenta a partir de crenças e valores criados e sustentados por construções políticas, cientificas, filosóficas e religiosas, que colocam a “família margarina”(a falsa manteiga) enquanto a régua legislativa da nossa cultura, enraizando nas mulheres um lugar de romantização adoecedora nas relações afetivo sexuais e fazendo-as acreditar que o cuidado enquanto “mãe” é o ápice primordial do seu desejo, as direcionando crer que é de suas totais e únicas responsabilidades o “cuidar”, enquanto a sociedade as “ajuda” com essa função.Diria então que é um mecanismo de controle psíquico social que visa submetê-las aos interesses do sistema capitalista, mantendo-as “encarceradas” no trabalho reprodutivo sendo este o que sustenta toda a roda aniquiladora de existências não hegemônicas e que gera anualmente 10,8 trilhões de dólares por ano no mundo, uma economia vinte e quatro vezes maior que a do Vale do Silício dos “non gratos” bilionários.
O maternalismo, é a transformação do corpo da mulher em máquina de produção e manutenção da vida através da disseminação de discursos que sustentam a romantização do papel do cuidado, escrevendo “manuais” que ditam a mãe perfeita, a mãe sagrada, a mãe que não erra, a mãe que abdica de si e dos seus “quereres” pelo bem dos seus. A mãe cujo desejo não transborda as barreiras da “constituição familiar” e aqui não falamos de “qualquer mãe” e sim daquela que desempenha o “padrão ouro” do cuidado, pautado numa realidade branca e heteronormativa de uma mulher que vive sempre bela e feliz com suas “funções” maternais, jamais reclamando de suas “obrigações”. Ao longo da história, a sociedade patriarcal e o seu sistema mundo foram criando cada vez mais justificativas para manter as mulheres nesse lugar de subserviência, entregando-as “validação e reconhecimento enquanto sujeitos” embalados num lindo pacote de presente da “natureza feminina” chamado INSTINTO MATERNO. Enfatizo que a arma mais poderosa que o patriarcado capital dispara contra os nossos corpos é justificar sua opressão pelas vias da natureza, pois o que dela vem não se questiona. É nesse engodo que a linguagem aterriza para enraizar suas “verdades absolutas”.
INSTINTO: voz interior, ações que realizamos de forma quase automática. MATERNO: de mãe.
Voz interior da mãe. Ações que uma mãe realiza de forma quase automática. Pergunto, de onde vem essas vozes internas desse “coreógrafo fantasma” que regem nossos gestos?
Sinto que existe um grande incomodo quando nos propomos contra colonizar essa dupla de palavras e o conceito que carregam. Muitas mães sentem-se destituídas das suas histórias e papéis, como se a conexão e o vínculo que sentem com os filhos não fosse algo real e sim de uma ordem utópica. Mas o que acontece é um grande imbróglio por serem mamíferas fêmeas, onde confunde-se o inato do mamífero com aquilo que é construído pela linguagem. Uma desordem causada pela fricção entre o que é biológico com o que está acerca da palavra e do encontro, sendo este último único, intransferível e singular para cada pessoa e que nada tem a ver com instinto. É uma aposta. Nada está garantido no encontro da mãe com o bebê e é essa expectativa de vivenciar o “instinto materno” que inclusive abre brechas para um adoecimento psíquico embebido em culpa para muitas mulheres. Ressalto aqui, que somos mamíferos cuja linguagem forjou os instintos. O instinto materno é na verdade uma criação pseudocientífica do século XVIII pra sustentar a manutenção do proletário para a revolução industrial.
Ele surge enquanto pseudociência na Europa oitocentista, em um período em que a mortalidade infantil era altíssima. De acordo com Elisabeth Badinter no livro “Um amor conquistado: o mito do amor materno”, 90% das crianças nascidas em Paris em 1790 foram entregues a instituições de cuidado em uma época em que não existiam substitutos para o leite materno, o que deixava claro a negligência ao laço, generalizando o abandono vindo de adultos não desejantes nas constituições das infâncias que o atravessavam. A enorme crescente de marginalização de pessoas que cresceram à deriva, sem nenhum amparo, virando assim cidadãos problemáticos e o entendimento de que os “filhotes mamíferos” não podiam ser criados apenas nos níveis das necessidades orgânicas, trouxe então a indispensabilidade de um novo cálculo patriarcal, onde enfim reitera-se que o papel do cuidado era “feminino”, amarrando o discurso do “instinto materno” à importância da lactação e à imagem da mãe imaculada, que “padece no paraíso do cuidado”, reduzindo assim as mulheres a esfera doméstica com o objetivo de “criar bons cidadãos para a pátria”.
Colonizados por essa dinâmica e vivendo em uma realidade anacrônica, onde o eurocentrismo ainda domina nosso modus operandi relacional, questiono.
Conseguimos criar “bons cidadãos” em uma realidade unívoca de cuidado que adoece corpos em prol do capital? No Brasil, 67% das pessoas com transtornos de ansiedade e/ou depressão são mulheres e este dado é massivamente creditado à sobrecarga do trabalho do cuidado e a feminilização da pobreza que ela produz. Segundo dados da ONU, 70% das pessoas que vivem em situação de pobreza no mundo, são mulheres. 49% dos lares brasileiros têm as mulheres como principais ou únicas provedoras. 11milhões de mães são solo, sendo que 90% delas são mulheres pretas e pardas. Concluo assim que, no Brasil, o maternalismo gere uma máquina de marginalização das maternidades dissidentes ao “padrão ouro” hegemônico, que empurra mulheres mães negras, indígenas, mães de crianças atípicas, mulheres mães trans entre outros maternares para fora do acesso à dignidade e direitos humanos básicos tantos seus quanto de seus filhos, as privando da possibilidade de escolha. Quando se priva uma mulher de escolha, aniquilamos da sua existência, o desejo. Quem não deseja não vive, sobrevive. Destaco então a urgência de descolonizarmos o cuidado para que ele não mais seja um fardo e sim uma celebração coletiva ancorada na premissa de encará-lo como um direito humano prioritário e inegociável. Cito então o sábio e revolucionário Frantz Fanon que um dia escreveu que “a descolonização pode ser sentida como uma desordem, o caos, porque a ordem e a normalidade, são características da colonização, de modo que a descolonização, quando se efetiva, produz justamente a desordem absoluta”. A desordem gera desconforto, mas como ouvi de Mãe Bernadete de Oxóssi, ficar com o desconforto é uma semente. Planto aqui, algumas sementes…
O que precisamos desnaturalizar para caminhar em direção a uma possível descolonização do cuidado? Como pensar novos cuidares? Como falar novas culturas? Se não há questionamentos, buracos não são abertos. Buracos abertos são espaços do vazio e deles brotam a dúvida e com elas, as possibilidades. Porém, preencher buracos e vazios é uma ideia falocêntrica. Caminho na contramão e deixo aqui, um buraco aberto jorrando potentes oportunidades de novos mundos.
Referências:
- IACONELLI, Vera. Manifesto Antimaternalista. In: PSI. São Paulo: 2023.
- KILOMBA, Grada. **Memórias da plantação**: episódios de racismo cotidiano. Tradução de Jess Oliveira. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.
- NÚÑEZ, Geni. **Descolonizando afetos**: experimentações sobre outras formas de amar. São Paulo: Paidós, 2023.
- FANON, Frantz. **Peles negras, máscaras brancas**. Tradução de Renato da Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008.
- CAFFE, Mara – GÊNERO. São Paulo: Cult, 2020. (Parentalidade).
- BADINTER, Elisabeth. **O mito do amor materno**: história de um amor ocidental. Tradução de Rolando Roque da Silva. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
- THINK OLGA. **Esgotadas: o empobrecimento, a sobrecarga de cuidado e o sofrimento psíquico das mulheres brasileiras**. São Paulo: Think Olga, 2023. Disponível em: https://thinkolga.com/esgotadas/. Acesso em: 27 maio 2025.
Texto produzido na pós-graduação em Estudos Familiares sob orientação de Ana Carolina Gomes Bueno